Indígenas sofrem violência física e simbólica, afirma pesquisador
Brasil registrou 2.074 mortes de indígenas no país ao longo de uma década

O número de mortes violentas contra a população indígena no Brasil cresceu 22% entre 2009 e 2019, segundo o Atlas da Violência 2021, publicação que registra essas mortes a partir de recortes de sexo, raça e gênero.
Para falar sobre a violência sofrida pelos indígenas, porém, é preciso pensar em outros tipos de relação, como a exploração de terras e a coação política. É isso que alerta o pesquisador do Instituto de Política Econômica Aplicada (Ipea), Frederico Barbosa da Silva, responsável pelo capítulo temático sobre os povos originários no Atlas da Violência 2021.
“A ideia do Atlas é, basicamente, quantificar esses dados de uma realidade que a gente já conhece, mas temos que relacionar a violência letal com outros tipos. Ela acontece em disputas por terra por conta de industrialização, pecuária e extrativismo mineral; ela envolve assédios, estupros, violência contra as lideranças. Essa, na verdade, é uma tendência histórica”, afirma.
O Atlas reforça que os casos de mortes violentas por 100 mil habitantes são maiores dentro das terras indígenas, cujo índice chega a 20,4, do que fora das aldeias, onde a taxa de homicídios é de 7,7.
O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) também produz anualmente o Relatório de Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Na edição de 2020, que compila os dados de 2019, o documento aponta que ocorreram 256 casos de “invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio” em, pelo menos, 151 terras indígenas. Um aumento de 134,9% em relação ao ano de 2018
“Temos duas hipóteses. A primeira é que nessas áreas têm mais indígenas, então, morrem mais, mas existe uma segunda visão que onde existe território indígena é também onde existe maior pressão sobre essas populações. Um outro ponto a se levantar é que boa parte dessas populações acabam indo parar nas periferias das grandes cidades”, alerta Silva.
A história de Alaíde Feitosa, do povo Pankararé, exemplifica isso. Ela migrou da Bahia para São Paulo em 1973. Vive hoje no bairro Jardim Aliança, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Décadas depois, a história desta liderança indígena se repete com outros indígenas.
“Vim em busca de novas oportunidades na cidade. A gente vivia uma vida muito difícil na aldeia por causa dos conflitos de terra e ameaças de morte. A gente não podia nem dançar toré (dança tradicional) porque a polícia ia até a aldeia e mandava a gente parar”, relata. “Eles diziam que se a gente continuasse a dançar, iríamos apanhar. Eles nos humilhavam e às vezes prendiam lideranças para proibir a nossa reza. Então a gente ia para o meio do mato para dançar escondido. Ou era ameaça da polícia ou de fazendeiros”, continua.
Pouco tempo depois que Alaíde migrou para São Paulo, seu pai, o cacique Pankararé Ângelo Pereira Xavier, foi assassinado dentro da aldeia, em dezembro de 1979. Como liderança indígena, ele viajava diferentes estados no Brasil para defender a demarcação das terras e os direitos dos povos originários.
O QUE É O MARCO TEMPORAL
A questão da terra é central no debate sobre a violência contra os indígenas no Brasil. E neste momento ocorre o debate sobre o Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal (STF), tese político-jurídica que defende que populações indígenas só poderão reivindicar terras onde já estavam em 5 de outubro de 1988, quando entrou em vigor a última Constituição Brasileira.
O embate entre representantes do agronegócio e indígenas sobre esse tema tem movimentado a sociedade nas últimas semanas. “O marco temporal é um absurdo porque não considera a história verdadeira dos povos indígenas que estavam aqui desde a invasão. Os herdeiros desses invasores desde 1500 são posseiros, fazendeiros e todo um grupo de pessoas que defendem essa ideia para manter suas riquezas e seu poder. Eles querem acabar com os povos indígenas. Eles querem tirar nossas terras e nos ver mortos”, destaca Alaíde Pankararé.
Para Silva, o texto defendido pelo marco temporal vai gerar mais insegurança jurídica e aumentar a vulnerabilidade desses povos, que ficarão, segundo o pesquisador, ainda mais suscetíveis a pressões econômicas e políticas. “A tese dá uma insegurança jurídica para as terras que ainda não foram homologadas e aumenta a possibilidade de questionamento no futuro das outras terras que já passaram por todo o processo de reconhecimento e formalização. O marco abre uma um rol de possibilidades, além de ser, do meu ponto de vista, uma leitura constitucionalmente equivocada”, avalia o pesquisador do Ipea.
Quer uma navegação personalizada?
Cadastre-se aqui











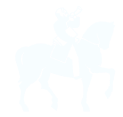
0 Comentários