Para especialistas, desigualdade social é a principal causa das enchentes nas periferias
Arquiteta e assistente social explicam por que populações negras, pobres e indígenas são as mais atingidas pelos alagamentos

O sofrimento com enchentes tem lugar guardado na memória de Vilma Patrícia Silva. Nascida em Nazaré das Farinhas (BA). Ela lembra que elas vinham sempre entre os meses de março e abril. Se recorda disso, porque era o mesmo período que acontecia a Feira de Caxixis, evento tradicional na cidade. “Tenho memória, muitas vezes, dos oleiros que fazem as cerâmicas recolhendo as peças por conta das enchentes”, diz Vilma. “Muitas vezes a gente estava no quarto e a água estava nos pés. Nossa casa era pequena, um quarto, sala e cozinha. Ao chegar na sala a água já estava praticamente na coxa e aí uma ou duas horas depois passando o peitoril da janela. É tudo muito rápido, você perde tudo, não dá tempo de recuperar e a única coisa que você pensa naquele momento é sair daquele ambiente.”
Vilma é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Bahia e cofundadora do Etnicidades, grupo de pesquisa etnoracial de arquitetura e urbanismo. Na trajetória profissional e pessoal os alagamentos sempre incomodaram: “Nós ainda não trazemos propostas para pensar bairros, cidades do interior e capitais de forma que as instâncias governamentais adotem estes projetos [de combate a enchentes]”.
Nos últimos meses, vários estados do País enfrentaram situações trágicas de alagamentos. Algo que se repete ano a ano. Em dezembro de 2021, foram dezenas de mortos e milhares de desabrigados no sul da Bahia. Algo similar ao que aconteceu em Minas Gerais no início de 2022. Também no começo deste ano, vimos perdas em alguns municípios da cidade de São Paulo, caso de Franco da Rocha. Em 15 de fevereiro, mais uma tragédia com a força da água: Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde morreram 223 pessoas.
Muito além da já afirmada e confirmada emergência climática, que causa eventos naturais extremos, vários outros fatores contribuem para os desastres. Alguns exemplos, destaca Vilma, são o mau uso do espaço público urbano, o entupimento de bueiros, as devastações de área verdes e a construção de residências em espaços inadequados.
O desastre não se resume à destruição de casas e à perda de bens materiais. A arquiteta alerta que após as enchentes as comunidades costumam ficar sem abastecimento de água e sem energia elétrica por um período. “Eles [ficam expostos] a uma água contaminada que arrisca a saúde; trata-se na maioria das vezes de uma população sem plano de saúde e sem acesso a um sistema de saúde de qualidade”, diz Vilma.
Desigualdade econômica — A assistente social Zezé Pacheco levanta outra questão: a desigualdade econômica. “Quando tem esses desastres a gente acha que afetou igualmente ricos e pobres daquela região. Mas a relação é desigual, esse é o lugar da invasão portuguesa, é um território com vários povos indígenas ainda lutando pela demarcação dos seus territórios. E a gente também tem comunidades quilombolas que não têm os seus territórios legalizados”, afirma a também secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores, da Regional Bahia e Sergipe.
Ela lamenta a situação das populações que ficaram desabrigadas com as enchentes no sul da Bahia. “Em Itabuna [cidade baiana], quando houve o desastre eles colocaram o povo no centro de convenções e nos estábulos de cavalos. E a gente pensa: que olhar se tem para essa população? Uma população majoritariamente negra e indígena. Quem ficou desabrigado?”, questiona Zezé.
Construções inseguras não são uma escolha — É justamente a desigualdade que leva comunidades vulnerabilizadas a construírem casas em terrenos inadequados, próximos a rios, mananciais e barrancos. Ainda se referindo ao sul da Bahia, Zezé explica que na região há um forte cultivo de eucalipto para produção de papel. Isso gera os chamados desertos verdes, plantações de monoculturas que causam prejuízos ao solo. “Esses plantios tomaram os territórios ocupados por comunidades tradicionais, que se viram obrigadas a mudar para áreas próximas à manguezais e rios, o que os torna também os mais afetados pelas cheias desses canais.”
Já Vilma, chama atenção para o fator histórico: o direito à moradia foi negado à população negra. A urbanista afirma que vivemos em uma economia de mercado, o maior investimento é nos bairros majoritariamente brancos. “A população negra recebe a metade do valor economicamente do branco. Logo, ela não consegue pagar por esses direitos que o mercado impõe e, automaticamente, estarão nas áreas de risco.” Segundo Vilma, impor a desocupação das áreas como solução para as enchentes é hipocrisia. Afinal, os grupos não estão nesses locais por escolha.
A legislação não favorece as populações citadas, porque não prevê normas para alguns dos problemas vivenciados por elas. Vilma conta que, quando cursava a faculdade, falou para o professor de Hidráulica que sua casa ficava no alto de uma ladeira e que enfrentava dificuldades para chegar até o ponto de ônibus quando estava chovendo, porque a região tinha alagamentos. Perguntou a ele qual seria a solução para essa questão e a resposta foi que a inclinação da ladeira mencionada não estava indicada na lei. “Quer dizer que a cidade está sob a posse de resolver essas questões pela legislação, mas a legislação não muda pela problemática da cidade”, afirma.
Para Vilma, isso acontece porque quem cria as leis “não mora nesses lugares, não vai para o ponto de ônibus, então não é um problema da legislação”. Esse fato dificulta a atuação de urbanistas, que, por mais que enxerguem essa realidade, devem seguir as leis.
Em meio aos efeitos já sentidos das mudanças climáticas, Zezé acrescenta o racismo ambiental como elemento central, já que populações pobres, ribeirinhas, quilombolas e indígenas são as mais afetadas. “A gente vê que o Estado Brasileiro não está preparado para o processo de mitigação, de compensação e de construção de políticas públicas para os refugiados do clima”, diz.
Solidariedade como forma de resistir — Voltando à infância de Vilma, sua família, que vivia em uma comunidade negra, tinha o apoio dos vizinhos quando a água invadia a casa. A arquiteta se recorda dos moradores buscando móveis e outros itens. “É ele [vizinho] quem vai carregar as suas coisas porque sabe o valor daquilo.”
A solidariedade estava presente também nas vigílias que os moradores faziam nas épocas em que o rio estava mais cheio. Era para sair avisando os outros, um modo de proteger e, quem sabe, conseguir salvar alguma coisa.
Essa ajuda mútua também ocorreu no contexto mais recente dos alagamentos em municípios baianos. Apesar de notar que a ajuda humanitária demorou a chegar, Zezé Pacheco relata que achou interessante a mobilização da sociedade civil. Igrejas e movimentos sociais arrecadaram doações de alimentos e itens de higiene para as populações atingidas. Para ela, a reconstrução das moradias será um desafio, “porque a gente está num Estado ultraliberal, em que o povo negro e o povo indígena não estão no orçamento”. Vilma também aponta a falta de ação do Estado na sua vivência com o tema: “por parte do poder público nunca houve de alguma forma o ressarcimento das perdas”.
Quer uma navegação personalizada?
Cadastre-se aqui










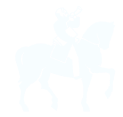
0 Comentários